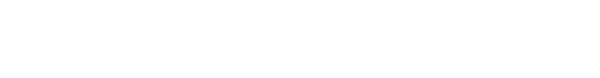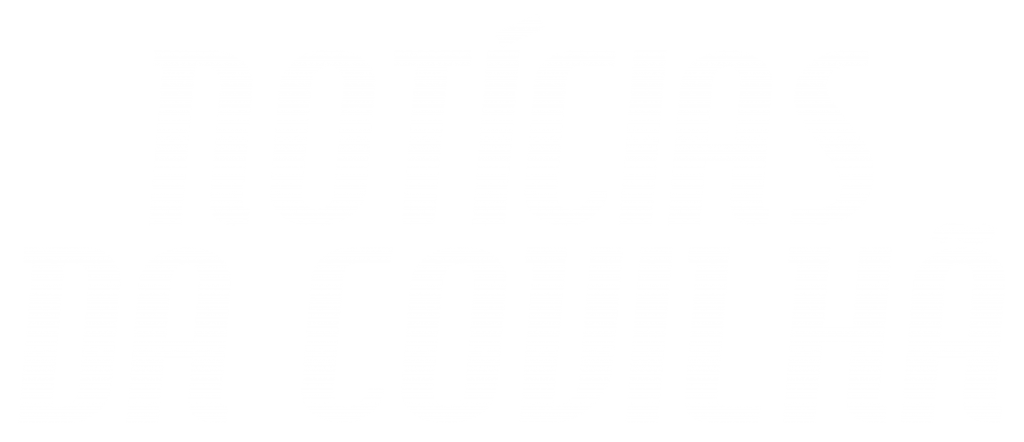André Morais*
A proteção civil é, por definição, um serviço público essencial centrado na salvaguarda da vida humana, da integridade física, dos bens e do património. Em Portugal, a Lei de Bases da Proteção Civil consagra princípios como a prevenção, a precaução, a subsidiariedade e a informação, defendendo uma atuação técnica, imparcial e livre de interesses políticos. No entanto, a realidade prática, sobretudo em contexto autárquico e em períodos eleitorais, revela uma crescente instrumentalização da proteção civil como palco de afirmação política.
A proteção civil foi concebida como uma estrutura neutra e transversal, com articulação entre níveis nacional, regional e municipal. A nível local, as autarquias assumem responsabilidades diretas, materializadas nos Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC). Com eventos de grande impacto – incêndios (2003, 2005, 2017, 2022, 2025), cheias, acidentes tecnológicos ou a pandemia de COVID-19 – esta área ganhou grande visibilidade mediática e política.
Este destaque trouxe benefícios como o aumento da literacia do risco, mais investimento e valorização profissional. Porém, criou também um risco: a tentação de instrumentalizar a proteção civil como mecanismo de visibilidade política, especialmente em contexto eleitoral, esbatendo a fronteira entre comunicação técnica e propaganda.
A proximidade das autarquias às populações é uma das forças do sistema, permitindo respostas rápidas e ajustadas à realidade local. Contudo, essa mesma proximidade expõe a proteção civil à politização. O presidente de câmara, enquanto autoridade municipal de proteção civil, é também líder político, muitas vezes em recandidatura. A sobreposição entre liderança técnica e política cria zonas cinzentas onde a neutralidade é comprometida.
Exemplos recorrentes incluem: inaugurações ou aquisições de viaturas em campanha eleitoral; apresentação de planos de emergência como “conquistas políticas”; simulacros usados para projetar imagem do executivo; utilização de agentes da proteção civil como candidatos; comunicação de crise feita em registo político.
Quando a proteção civil se torna um instrumento partidário, a sua missão de imparcialidade é colocada em causa. A proteção civil deve basear-se em critérios científicos e técnicos. Decisões como evacuar uma freguesia ou investir em sistemas de monitorização devem ser tomadas com base em dados, não em cálculos eleitorais. Porém, a prática revela uma realidade onde muitas decisões são condicionadas por receios de impacto político ou busca de ganhos eleitorais. Isso gera dois efeitos principais: comprometimento da eficácia operacional e a fragilização da confiança pública, com menor adesão às recomendações técnicas. Sem confiança, a resposta social a riscos graves torna-se ineficaz.
A politização da proteção civil em contexto autárquico gera efeitos negativos duradouros: erosão da confiança pública, com suspeição sobre a neutralidade das decisões; desvalorização da técnica, com os profissionais subordinados à lógica política; instabilidade organizacional e rotatividade não justificada de equipas; fragmentação territorial, com autarquias mais ricas mais protegidas; e risco de propaganda, privilegiando ações visíveis em detrimento de medidas estruturais.

As eleições autárquicas potenciam a apropriação da proteção civil como capital eleitoral. A gestão do risco passa a integrar o “legado político” de candidatos, que usam investimentos, equipamentos e ações de resposta como bandeiras eleitorais. Esta instrumentalização ocorre em três planos: infraestruturas – inaugurações e aquisições apresentadas como conquistas do executivo; narrativas – associação da imagem do candidato à segurança da população; e gestão de crises – aproveitamento de eventos adversos para reforçar a liderança política.
Valorizar o investimento não é um problema. O problema é capturar um bem público – a segurança coletiva – para fins eleitorais.
A politização da proteção civil não é inevitável. É possível reformar o sistema, assegurando articulação com o poder político, mas reforçando a autonomia técnica. Algumas propostas incluem a regulamentação dos SMPC, com separação de funções entre coordenação técnica e estruturas de comando; autoridade técnica municipal autónoma, com reconhecimento legal e independência face ao executivo; orçamento e equipa técnica próprios, reduzindo a dependência política; auditorias independentes (MAI/ANEPC), com avaliação periódica da resposta municipal; formação contínua para técnicos e decisores, promovendo legitimidade técnica; participação comunitária, envolvendo cidadãos e associações nos processos de planeamento; e redes intermunicipais, potenciando consórcios para apoiar territórios mais frágeis e diluir pressões locais.
A politização da proteção civil, especialmente no plano autárquico, representa um risco silencioso, mas real. Traz ganhos políticos imediatos, mas compromete a confiança pública, a eficácia das respostas e a resiliência coletiva. Em tempos de risco crescente alterações climáticas, eventos extremos, acidentes tecnológicos – é essencial que a proteção civil se mantenha como um bem comum, fora da lógica partidária.
As eleições autárquicas de 2025 serão um teste à maturidade democrática neste domínio. Cabe a candidatos, técnicos e cidadãos rejeitar a instrumentalização da segurança coletiva e defender uma proteção civil técnica, imparcial e orientada para o bem comum. Só assim será possível construir uma sociedade verdadeiramente resiliente, onde a confiança seja tão relevante quanto a técnica.
*Doutorando em Relações Interculturais/ Mestre e Licenciado em Proteção Civil